GUERRA JUSTA
Por Miguel Machado • 23 Mar , 2009 • Categoria: 02. OPINIÃO Print
Print
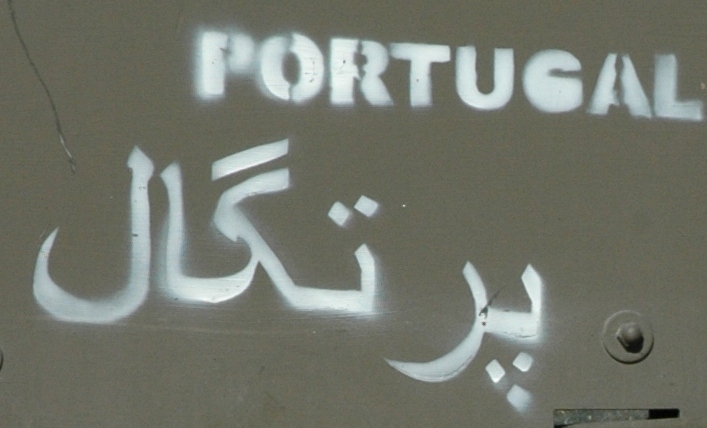
Tema sempre actual o que agora o “Operacional” apresenta é da autoria de José Carmo e merece reflexão atenta. As modas e o politicamente correcto em vários momentos históricos estão aqui bem apresentados e ajudam a compreender o modo como hoje muitos abordam no domínio público a problemática da guerra. José Carmo, 48 anos, é coronel na situação de reforma extraordinária, e durante a sua carreira serviu nos Comandos e nos Pára-quedistas. Licenciado em Ciências Militares (Infantaria) é Mestre em Ciências e Sistemas de Informação Geográfica.
Num tempo em que o fenómeno da guerra é tão condenado pela sua suposta intrínseca maldade, é quase uma blasfémia relembrar que ela é apenas a continuação da política por outros meios, como escrevia Clausewitz.
Ou, como pensava Ortega y Gasset, uma técnica humana para resolver conflitos que não possam ser resolvidos de outra forma.
O que, em resumo, significa que por vezes a guerra se justifica.
Em Roma inter arma silent leges (em tempo de guerra calam-se as leis), pelo que a guerra não tinha outras regras senão as decorrentes dos interesses do Império, ou da necessidade de alcançar a vitória.
Quem se submetia podia viver e acolher-se à protecção do Império e à Pax Romana; quem resistia era remetido para a pax dos cemitérios ou para a escravatura, como aconteceu com Cartago (delenda est Cartago).
Ao realismo romano sucedeu um certo radicalismo cristão, pacifismo dogmático que só começou a abrir brechas face a avanço da espada flamejante do Islão, quando Santo Agostinho teorizou que o cristão devia por vezes ser soldado e combater, desde que a causa fosse justa.
Não importa debater quais os conceitos de justiça que Santo Agostinho tinha em mente, mas sim sublinhar que a sua teoria permitia fazer a guerra num mundo onde ela nunca deixou de ser necessária.
Todavia, se o cristão pode combater justamente pela Cidade do Homem, com mais justiça o deverá fazer pela Cidade de Deus, pensaram alguns, e o resultado foram as cruzadas, como reacção à jihad, e as ferozes guerras religiosas que posteriormente varreram a Cristandade até à Paz de Westefalia.
Bem antes, já S. Tomás de Aquino percebera o perigo das guerras religiosas, e escrevera que a mera diferença religiosa não era causa justa para desencadear uma guerra.
Interiorizados estes conceitos, os governantes foram-se sentindo obrigados a descrever as guerras que lançavam como guerras pela paz e pela justiça. O facto de, na maior parte dos casos, se tratar de mera hipocrisia, não elude a crescente necessidade de o vício prestar tributo à virtude.
O estado moderno remeteu novamente a guerra justa para segundo plano. As relações internacionais passaram a ser determinadas por homens realistas, movidos por razões de estado, que faziam aquilo que tinha de ser feito.
Os estados lutavam quando e como entendiam necessário, retomando a velha máxima romana da guerra como espaço sem lei, mas usando quase sempre a linguagem da guerra justa e sentindo a necessidade de legitimar as acções.
No mundo “realista”, o interesse nacional era a verdadeira bitola da moralidade, apesar das Convenções e de uma cada vez maior densidade do direito internacional.
Nos idos de 1969, a contestação à guerra do Vietname conduziu, por inesperados caminhos, ao regresso da linguagem da moralidade.
A oposição à guerra vinha sobretudo dos meios esquerdistas e marxistas, e assentava também numa linguagem de interesses, pouco produtiva em termos de mobilização popular. Contra vontade e contra-natura, a esquerda acabou por cair na moralidade e deu por si a usar categorias morais e a falar de “justiça”, da guerra e na guerra.
Criticavam-se as razões “injustas” da guerra e as maneiras “injustas” como ela era conduzida.
Hoje a esquerda quase monopolizou os argumentos morais, embora na maioria das vezes se trate de uma moralidade instrumental e selectiva, que replica o realismo maquiavélico, ou seja, defende sobretudo certos interesses, instrumentalizando em seu benefício a linguagem da guerra justa.
Seja como for, o jus ad bello tornou-se, pelo menos nos países ocidentais, um crivo pelo qual têm de passar as decisões de paz e guerra.
Mas será isto real, ou trata-se apenas de fazer com que a mulher de César pareça séria?
Os realistas da linha dura entendem que se trata de puro maquiavelismo destinado a albardar o burro à vontade do freguês.
A esquerda pós-moderna entende que a guerra justa é algo que não existe (1), pelo que as suas categorias morais não fazem sentido, uma vez que o que para uns é terrorismo, para outros é um combate pela liberdade.
Assim sendo não há princípios morais universais que possam iluminar a acção, pelo que resta tomar partido ou assumir a indiferença. A consequência desta posição é a apropriação oportunista do vocabulário da guerra justa, para os fins pelos quais se toma partido. Uma parte significativa desta esquerda toma hoje ordinariamente partido contra os israelitas e americanos, opção para-ideológica que assenta no facto de analisar os conflitos com o instrumental marxista da luta de classes, identificando deste modo os “exploradores capitalistas (o Ocidente) ” e a “classe operária” (os palestinianos, o islão, etc.), razão pela qual cataloga de “crimes” ou “ilegais”, os actos decididos ou executados por esses países, independentemente da sua natureza. Na mesma ordem de ideias, actos intrinsecamente mais condenáveis, de um ponto de vista moral, mas cometidos pela parte pela qual se toma partido, são justificados como legítimos.
Os pacifistas à outrance, esses retomam a argumentação medieval do radicalismo cristão. Entendem que a morte de civis é assassínio e portanto toda a guerra que provoque a morte de civis é injusta, logo a guerra é sempre injusta, logo, Deus ex machina, basta recusar fazer a guerra, para que não haja guerra
Trata-se do radicalismo irracional de pessoas “do contra”, gente que não espera exercer poder, que não encara a política como a arte do possível, que opta sempre por confrontar o real com o ideal e que, por isso mesmo, recusa enfrentar os dilemas morais e éticos reais, que podem ditar como justo e necessário o uso da guerra.
(1) Stanley Fish, The New York Times, 15Out 2001.
Miguel Machado é
Email deste autor | Todos os posts de Miguel Machado



